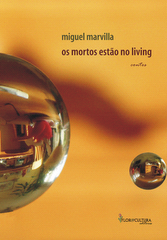terça-feira, 18 de novembro de 2008
Acabou...
Life must go on. Isso aqui, em breve, vai virar um blog de poesia. Apareçam.
terça-feira, 4 de novembro de 2008
Carta aos mortos (Paulo Roberto Sodré*)
Aqui, uma análise brilhante de Os mortos estão no living, que certamente ajudará na interpretação do livro. Divirtam-se.
a tarde é de ventos e agosto, fazendo as horas e as idéias sobre as páginas do seu livro de mortos que você me deu à espera de algo como um prefácio (que não terá). Sobre a mesa, também estão A Fuga e o vento (1980) e Exercício do corpo, livros de poemas seus, em que procuro faixas de lua e réquiens para seus féretros que me aguardam no living de alguma leitura necrometafórica.
Caro Miguel,
uma carta carrega notícias, traduz estados, expressa passeios de climas que se fazem no íntimo remetente. Esta carta, no entanto, carrega caminhadas pelos seus contos, traduz possibilidades de leitura, expressa primeiras e breves notícias de seu livro, o que me permite uma subjetividade racional ou uma cientificidade descompromissada, tornando minha leitura duplamente prazerosa.
ao não-prefaciar o seu Os mortos estão no living, procuro despertar a curiosidade do leitor para alguns pontos que, na minha fotografia panorâmica de seu texto, insinuam ensaios interessantes, além de surpreenderem com imagens cintilantes (“arremessando-Se a ambos até outro instante ainda sem usar.”, in “Amor”), e de grafitizarem sensações variadas, da iluminada (“Uma borboleta atravessou o set e fez um pouso azul na borda de um copo de cristal.”, in “O vampiro, Deborah”) à sombria (“planejando um futuro que, de antemão, já está gasto.”, in “Os sobreviventes da história”).
pensei em pedir a companhia de U. Eco e Roland B. para que, com suas lanternas esplendorosas, pudéssemos vasculhar seu livro; contudo, se assim procedesse, perderia grande parte da proposta que me fiz: com a panoramização da leitura, angariar a curiosidade do leitor para seu texto: de início, calidoscópico.
não me interesso pelo sexo dos anjos, assim como não me meto entre malhas de diferenciação entre prosa, poesia, poesia prosética, prosa poesaica. Absolutamente; e talvez peque (que me venha, então, o exílio). Seu texto literário instaura “a ambigüidade”, capricho da boa ficção, e privilegia “o absurdo que desencadeia o espanto”, não fazendo disso uma opção gratuita pelo hermetismo, como disse bem Tânia Chulam, no prefácio ao seu Exercício do corpo. A ambigüidade e o absurdo carpem a imbecilidade do cotidiano, esterilidade cultuada;
o ambígüo se estabelece, nOs mortos..., entre o sentido lógico do texto, subtextâneo, e a ludicidade quase parnasiana de se ler nele apenas o nonsense de um esteticismo caudaloso que se percebe no seu prazer picturista em descrever cenas, personagens e situações cheias de detalhes venéreos (“A luminárias acesa ilustrava o sexo dela, que era de noite”, in “Amor”); sinestésicos (“Uma sonata de Beethoven desprendeu-se do teto, escorreu mansamente pela parede e, escavando o silêncio, tingiu-as de luz.”, in “A terceira realidade”, conto que, junto com o “Nenhuma mulher é Isabel”, constata o deliciar-se com as possibilidades plástico-sonoras das palavras.); imagísticos (“O sol fugiu por uma fresta do horizonte e incendiou os cabelos da mulher”, in “Quatro assassinatos (quase) sem motivo”); figurativistas (“gritando cada vez mais lato, mais Alto, mais ALto, mais ALTo, interrompendo a . . . l . u . a . . . a espaços regulares dos vagões”, in “Nessa noite, o trem atrasou”),
e um etc de Haydn, urubus, violetas, masturbações, Isabel, banhos, camaleões, vinhos e seios (seu fetiche aliterante).
1987, outono de um século obeso de cultura e contracultura, possui os quartos, salas e outras dependências cheias de mortos, assim como os possui este seu livro de contos necromáticos. Na primeira parte dele, intitulada de “Os mortos”, inicia-se, com um conto tridiegético, “Três histórias”, um tríptico de dor, fogo e lua, que parece sintetizar tematicamente os hematomas humanos desenvolvidos nos seus contos, ou seja:
1. “A noiva passa, de carro, como para um enterro.” Nessa face do conto, a morte acompanha a instituição casamento, a função social da mulher (o ser humano com seu papéis predefinidos, num sentido mais amplo), a trivialidade existencial burguesa (“educação”, namoro, família), a felicidade individual. Tudo se faz em estado de velório. O contraste entre o papel social e o arbítrio se concretiza com os convidados felizes e a lágrima impercebida da noiva.
2. “Alguns moleques atêm-se a atear fogo a velhas caixas de papelão.” Nessa segunda face, Miguel, a morte aborda a humanidade em sua microestrutura: os moleques, membros gangrenados dela, desacreditam em solidariedade humana, esperança mística, equilíbrio social, e destroem essas abstrações humanistas, queimando o vazio e o mentiroso que elas contêm, “velhas caixas de papelão”, inúteis e ocas: na destruição dessas “caixas”, a esperança é cinza, sem a possibilidade de Fênix. Assim, nesse queimar as chances, os moleques queimam-se a si mesmos, incinerando o cão, projeção de suas dores, mágoas e misérias.
3. “A lua”, a hóstia de febre que permeará seu Os mortos estão no living de uma maneira antitética: ao mesmo tempo que ela pressagia a morte (do trivial, do gasto, do rotineiro, como no conto “Nessa noite, o tem atrasou”), ela também prenuncia a vida (do instinto criador, da alternativa, da poesia, como no conto “Leitmotiv”); a lua se torna Tanatos, a parada e a possibilidade de fim de um estado, e Eros, a busca pela vida ou o seu exercício em outra alternativa.
A lua será, se me permite, a chance de vida em outra estrutura, apunhalando o cotidiano e o bom senso, como acontece no já citado “Nessa noite, o trem atrasou”, em que, morrendo o censor, devido ao “atraso” do trem (a rotina, o comportamento estereotipado), o indivíduo se instintifica, valendo-se do absurdo e poético como redenção, embora o medo e o pavor do desconhecido afaste a ambos como aracnídeos repugnantes:
essas três facetas de um mesmo conto, “Três histórias”, já revelam um clima angustiano que percorrerá a espera de seus personagens no living de um mundo minado de pós-isso-e-aquilo, onde tudo é um largo e enferrujado clichê (o que o justifica com presença em seu texto); tudo isso já foi tridito, feito, triprometido, esperado, sexdecepcionado. Uma escória amarga e profunda de desencantamentos.
Miguel, a tarde se enroscou de nuvens gordas de chuva. Tenho receio de que minha vontade de ler seu texto delongue esta carta. Lembrei-me de Eu sei que vou te amar, do Jabour, ao reler seu conto “Amor”. Juan-Eduardo Cirlot, em seu Dicionário de símbolos, comenta algo interessante sobre a lua, o que reforça a importância dela no seu texto: “acima de tudo, é o ser que não permanece sempre idêntico a si mesmo mas experimenta modificações ‘dolorosas’ em forma de círculo clara e continuamente observável”. A vontade de um ensaio chegou cheia em mim, rapaz.
ao reler seu poema “Ofício”, no livro A fuga e o vento, (“não posso prescindir da janela // é meu ofício pretender a lua”), deparei-me com o sumo do conjunto de temas que compõe seu livro de contos dos mortos e outros que estão no living. Na verdade, cada personagem, recuperado pela eficácia de sua linguagem
ora linda (“ela permitiu-se um sorriso, que ilustrou o quarto”, in “Nessa noite, o trem atrasou”; “Havia sapos coaxando na memória, onde os mortos passeavam, impunes, suas sombras.”, in “Os mortos estão no living”; “Foi quando a manhã floriu outro futuro e o sol confiscou-lhe a imaginação”, in “Narciso indeciso”);
ora patética (“Fim da sua última esperança.” in “Cão”; “Selam seu destino”, in “Casamento”);
ora trocadilhesca (“divinos divididos filhos do falho útero de Deus”, in “Os fetos, as begônias”; “Cumpre-se, cúmplice de si.”, in “Fragmentos”), tenta resgatar a fantasia e a mutabilidade dolorosa e fecunda que o cotidiano carcome, massificador, maresia feroz.
contra essa ferina maresia, o indivíduo abdica da máscara, e procura o suicídio, não somente ou exatamente o físico, mas o cultural com os papéis definidos (“Rua da cidade”; “Leitmotiv” — um belo conto arguto); a fantasia (“O vampiro, Deborah” — onde um narrador voyeur rouba a trama do conto; “As adversárias” — a mulher e sua origem mítica: a serpente, ou Cleópatra em retrato com cores de Gôngora e traços de Ingres); o delírio (“Nessa noite, o trem atrasou”); a busca (“O homem, a estrada” — o chegar-se a si inexeqüível: Narciso amputado de seu espelho), e todas essas possibilidades de escape apresentam-se inítidas, sob a fertilidade sombria da lua: veneno contra o comum em favor da alucinação, do alumbramento.
“pretender a lua”: o motivo que desencadeia seus personagens, Miguel? Serão seus contos poemas onde seu fascínio pela palavra e sua vontade de a tocar homem e lunarmente abandonam o verso, parcimonioso e contido, e buscam a completude de uma ficção extensa de uma interioridade intensificada?
minha proposta de ser breve, tomando café, enquanto a noite é risco de ventos escuros, exige que eu pare de lhe escrever, moço. E creio que ela tenha razão. Delongo, e a brevidade já se torna retórica demagógica. (Tenho esboçado a capa do seu livro, acho que logo a terei pronta.)
finalizando com reticências, Miguel, já que há tanto a ser estudado no que concerne à estrutura de seus textos (diálogos, parágrafos incomuns etc.), linguagem, procedimentos poéticos, metáforas, intertextos, estilos e outros aspectos do seu livro, repito, calidoscópico, deixo-o intacto para sensibilidades e argúcias lerem e comprazerem-se com ele: talvez reclamem de alguns clichês oracionais e temáticos; imperdoáveis, seus clichês? Não. Se os mortos estão no living, que todos os cadáveres tenham seu lugar à lua.
um grande abraço
do cúmplice
paulo roberto sodré
19 de agosto de 1987
*Paulo Roberto Sodré é escritor: Interiores e Gravuras de Sherazade na penúltima noite, entre outros, professor de literatura medieval na Universidade Federal do Espírito Santo e, o melhor de tudo: meu amigo.
Júlia D.: o banho
— Me dá um pedaço do teu sorriso?
Poderia. Não queria uma resposta sincera mesmo, queria?
— Deus criou o mundo... o mundo... o mundo...
O padre tinha uma voz tão bonita de sotaque castelhano...
— Doutor, eu queria ver Deus. Ia falar pra Ele das minhas visões. Sabe, sonhei com meu canário pardo, que morreu. Tinha uma esperança de liberdade apregoada em cada pena. Doutor, eu queria ser Deus!
O telefone. Se ao menos tivesse um, tocaria agora. Traria notícias?
— A esperança é sempre natal. Tão-somente haja, esperança é sempre fatal. Já ouviu falar de Cristo? Era um grande sujeito. Morreu de esperança.
— E o padre, doutor, é também um suicida?
Uma lágrima imitou o brilhar da lâmpada, descreveu um arco em torno da narina e trouxe-lhe um sabor de sal. Tudo doía. A mão, adormecida na torneira, esquecia-se de mover-se.
Um punhado de neve desabou de sobre o seio esquerdo.
Tinha todos os sintomas do belo. Não precisava de uma estrela nos cabelos. Não conseguia sequer precisar o momento exato de acionar a vida.
Ela, feto:
— Mamãe, é inadiável que se nasça? É mesmo preciso nascer, mamãe?
— Não sei. A solução apenas homologa a situação.
Outra lágrima tentou trafegar no mesmo sentido que a anterior, mas não chegou a completar a trajetória, por causa de um acidente qualquer da geografia do rosto. Havia uma taruíra no banheiro, porém esqueceu o grito antes mesmo que o forjasse. Era melhor não ter memória. Talvez fosse melhor nem existir.
Via pela janela um pedaço do céu, que era um pedaço do mundo. Toda ela era um pedaço da vida.
— Doutor, o padre...
— A vida...
— ... não ...
— ... não ...
— ... é ...
— ... corresponde...
— ... um louco!
— ... à realidade.
— Doutor, eu quero saber de mim.
— É justo. Todas as crianças têm o dever da credulidade.
— Mas, crendo, adulteram o sentido primário da realidade: passam a ter desejos.
— Está bem. Resta-lhe uma saída: não creia em nada.
Black-out.
Black-out. Esperou a luz voltar e pensou em Deus criando o universo: era só apertar o interruptor.
Subitamente, percebeu que estava coberta de neve recendendo a pitanga e suicidou-se de frio.
Um toca-discos manchava o ar com uma valsa de Strauss.
Ninguém deu pela falta da morta. Então, ela se levantou e lavou toda neve do corpo.
Enquanto isso, foi vista pelo espelho, Deixou-se admirar. De fato, possuía belos seios, belos olhos, bela imaginação. Havia pouco de que se queixar, mas, agora, a vida lhe pesava nos ombros. Quanto tempo ainda de silêncio?
— Doutor, sou grávida por hierarquia. Porque minha mãe, minha avó, minha bisavó, todas as mulheres da minha família eram grávidas.
— A gravidez é um estado masculino de desprezo. Nascer, fazer nascer, são maneiras cômodas de não apresentar razões.
— Mas eu jamais quis ter este ser dentro da minha virgindade!
— Não tenha medo. Nem todas as mulheres geram Cristo. Algumas geram Marx. Quer me fazer crer que o orgasmo não substitui essa frustrada tentativa de não-existir? Então, ancore-se, pare de voar.
Estava nua. Como não se sentir mulher?
— Mamãe, é mesmo irremediável nascer?
As adversárias
 Porque, é claro, ela tem as pernas azuis. Porque olha com jeito de quem sabe a arco-íris. Porque, bela, está flutuando acima dos jasmins e da violetas. Claro, ela tem as pernas azuis.
Porque, é claro, ela tem as pernas azuis. Porque olha com jeito de quem sabe a arco-íris. Porque, bela, está flutuando acima dos jasmins e da violetas. Claro, ela tem as pernas azuis.Borboletas em volta — rimas para Eros —, ela descansa sua sensualidade particular na paisagem. Não vai estar nunca diferente. Já se acostumou à pele dourada dos seios e do colo, à tepidez do sol no rosto, às mãos, macias, desvendando o corpo, desnudando os enigmas de si — mulher —, e às pernas azuis confundindo-se com o céu, pois ela possui essa capacidade invulgar de absorver cores.
Não que fosse um processo fácil, como voar ou mudar de cara. Gastava tempo, tinha que ficar ao sol, secando, como as cobras, depois de adquirir o matiz ambicionado. E havia cuidados especiais para que a cor se fixasse. Nada de esforços violentos ou de sobressaltos, por exemplo. Ela mesma já tinha visto desbotar de si uma tonalidade maravilhosa que absorvera de uma orquídea rara — um meio-tom pastoso entre lua e aurora — porque uma noite se esquecera de sonhar e acordara em pânico, em branco, no escuro.
Mas agora, não. Agora, ela tem as pernas azuis, como sempre quis, e dorme e sonha, abre os olhos e sonha.
Ora, mas eis aqui a serpente e sua policromia. Impedida de alar-se, ela impele ao espaço sua música mágica, para encantar a presa, a desejada. A mulher percebe o movimento abaixo dela e, hipnotizada, senta-se no ar. Fitam-se uma à outra, fascinadas, adorando-se. Não é só a melodia que as une, mas o cromatismo de ambas, vário. Então, ela desce do seu céu, deita-se no chão, o rosto rente à grama, os olhos postos nos olhos oblíquos da serpente. Cobiçam-se, as adversárias. Sabem: o golpe tem que ser único, o bote tem de ser. Vão ficar assim até a noite, até que os restos do presente sirvam de fundo para os fantasmas liberados pela pálida luz da lua.
Vão ficar se amando à distância, répteis, femininas — cada qual à sua maneira — sob um cenário de medo e estrelas. Vão ficar até que uma não será mais. Ou as duas.
Agora, cumprido o ritual previsto, não lhes resta, senão o ataque, alternativa. A mulher ergue a mão. A serpente recua e se arma, alarmada. Mas a mão erguida apenas acaricia e elas, enfim, aportam uma na outra, em seu beijo mortal. Cada qual.
terça-feira, 28 de outubro de 2008
Nenhuma mulher é Isabel
Para Maria Izabel
Não é de todo fundamental que seja alemão, o vinho, mas é imprescindível que se trate, no mínimo de um Qualitätswein mit Prädikat. Mozart tem de ser deixado ad libitum para que percorra o ambiente, penetre nas frestas menos aparentes dos armários e das estantes; para que passeie, claro e límpido, por entre as poucas palavras que encontrará pelo caminho; para que acompanhe a curva indelével dos seios sob a blusa de seda e se aconchegue quando quiser no matelassé. Porque deve ser uma noite densa e fria, talvez com fiapos de lua apegados a uma reprodução de Klimt (na impossibilidade absoluta de um original), ou com borboletas azuis pousadas na vidraça.
Mas nada de tangos, rumbas, coisas tristes ou violentas. O futuro, um carteiro retardatário, que não entre já com telegramas, encomendas do reembolso postal e sua pressa ininterrupta.
Sim, as mãos. Estas devem estar preparadas para suas possibilidades infindas de movimento, mas cegas a qualquer outra opção que não a suavidade, o penetrar macio através do mar profundo e resoluto dos cabelos, o molde do ombro, a linha irrepreensível as pernas, o quantum dos quadris.
As mãos, porque é necessária a tensão exata do arco nas cordas do violino, o andamento bem definido, a vigência precisa dos bemóis e sustenidos, a melodia executada com perfeição, para que sustente do ar o que por si só suspenso não poderia permanecer.
É permitido discorrer um pouco sobre a sensualidade possível dos vampiros, o êxtase calmo que aflora com o sangue, aos filetes, da jugular despedaçada. Admitem-se breves incursões por teorias neobehavioristas, pela antropologia medieval, por Galahad e Guinevere, a expansão do universo, as razões por que Eusébio de Cesaréia omitiu o nome de Cristo em De laudibus Constantini, o sistema métrico nepalês, por tudo que se queira, desde que nada seja vulgar: as palavras devem ter vida e gesto, cor, cheiro, sabor, e a medida justa para ocupar apenas o espaço a elas destinado no mosaico do silêncio.
Há que se encontrar aderido ao próprio ser dos objetos (e não só no lobo da orelha) um sutil aroma de Opium by Saint Laurent. Grave erro terá sido cometido, no entanto, se ele não puder se desgarrar das coisas em função de outro cheio qualquer que esta mulher possa preferir ou, principalmente, deste perfume que ela emana e que não é de nada que mortal algum tenha até aqui tocado ou concebido.
É de suma importância também que se declame, em voz baixa e rouca, um poema de García Lorca ou de Fernando Pessoa para esta mulher amada que se espreguiça docemente, sem se dar conta de que qualquer movimento seu desregula o mundo e é como girar um caleidoscópio: o móveis mudam de lugar, os lustres experimentam novas posições, as cortinas se transformam, e o mar lá embaixo deixa de ser mar para tornar-se em espectro, inexprimível por qualquer manifestação verbal ou escrita conhecida.
Música de dança. Tomá-la pela mão, cuidando em que os dedos não exerçam sobre a sua pele nem mais nem menos pressão do que a estritamente necessária à absorção do calor que ela desprende, ignorado de Celsius e Kelvin e Fahrenheit. Sentir o Danúbio, azul, deixando ao Reno e ao Mosela a tarefa de refletir o sol sobre os vinhedos de Baden, sobre as Riesling pretas de Würtemberg, sobre Rheinhessen e Mosel-Saar-Ruwer, mas trazendo consigo a própria essência romântica e distante dos Cárpatos e da Floresta Negra, para lançar-se aqui com o peso da sua história, a sinuosa beleza da sua forma e a impetuosidade de um crime passional.
Desde sempre, no entanto, está pronta uma hora em que o Danúbio se acalme, o feixe de laser retorne ao seu ponto de inércia no cedê, o que se ouve é o silêncio, a respiração dos amantes, misturada aos olhares que se atraem e aos lábios que se aproximam, de tal forma homogênea que não se sabe mais se respiram ou se apenas reaproveitam o ar que o outro devolve já utilizado, sem se importarem com a necessidade orgânica de renovação do oxigênio consumido, pelo simples prazer de morrer da mesma asfixia.
Acontece que não há tempo de parar para morrer. Não é essa, para nenhum dos dois, nem a ocasião nem a forma desejada da morte, de modo que ela se afasta, derrotada, com seu alfanje e seu manto escuro e pesado, em busca de outras vítimas.
Perguntar quem é esta mulher. “Isabel”, responde. Isso basta: a certeza de que nada mais existe de tão pleno e irresumível escreve-se na penumbra com sua tinta iridescente.
Isabel, Isabel, a palavra acabada de dizer muitifica-se, traz no bojo uma beleza mágica e megalítica, para muito adiante de Carnac e da simples vastidão da identidade. O que é esse nome que, de tão completo, é sua exata expressão, o objeto em si mesmo?
Isabel e, por sedução, blues. Josephine Baker levanta-se do túmulo trazendo consigo Alberta Hunter rediviva. Sentam-se ambas nas almofadas de cetim, conversando sobre St. Louis, Chicago, Paris, uma época em que ainda havia tempo para ser feliz. Elas parecem à vontade, proprietárias de uma era que Isabel não viveu, que não vivi, fantasmas de um teatro abandonado ao qual comparecemos inteiros em número grau e gênero sujeito verbo predicado, espectadores renitentes, na esperança de que os atores voltem ao palco, de que a cena se ilumine, de que o pano não tenha caído.
Alberta Hunter aproxima-se de Isabel, dentro dos olhos, vendo-lhe a alma, os desejos contidos. Com sua mão magra e delicada, segura-lhe suavemente o braço e completa com ela, em slow motion, o gesto que ficara por fazer, esquecido de se terminar, quando as descobrimos sentadas na sala como duas pessoas da família.
O gesto é o abraço, a carícia dos dedos irretocáveis na nuca exposta, e de tal importância que por ele dois fantasmas negros e ossudos atravessaram não apenas as fronteiras da casa e do país, mas, principalmente, a fronteira membranosa e úmida de dois mundos, o dos vivos e o dos mortos, para que pudesse não deixar de acontecer.
O resto é ritual. Navego o oceano interminável do colo no beijo sem pressa. O seio sob a seda lacerada por dez facas ávidas se dá por descoberto, a textura de pétala da pele revelando, enfim, sua trama.
No delta das coxas, Aracne tece sua teia. A teia me enreda. Entrego-me. Gloria victis.
O futuro, comme il fault, arromba a porta com seu dia cheio de notícias e urgência de acontecer. Josephine Baker diz adeus, Alberta Hunter diz adeus. Procuro Isabel no abraço vazio que me dou, em que ela nunca esteve. Há muitas mulheres no mundo e nenhuma delas é Isabel.
Do lado de fora, alguém atravessa a rua assobiando um rock new wave.
sexta-feira, 26 de setembro de 2008
O vampiro, segundo a vítima

Para Luciane F.
Ela ouviu os dentes afiados rangendo na pele, explorando a carne, explodindo a artéria e disse para si mesma que a paz é viscosa e doce como leite condensado, e vermelha.
Usava uma camiseta muito justa, que mal conseguia conter os seios em sua ânsia de fuga, e um fio de sangue começou a correr por entre eles, unindo-os, mais um afluente da sua emoção.
Numa quarta-feira sombria

Passou a andar de costas, com medo de encarar o tempo. Talvez por isso não se saiba exatamente quando desabou. Alguns dizem ter sido numa noite farta, com os telhados das casas retinindo de lua, que o asco represado atravessou-lhe a garganta, feito lâmina de aço. Então, o corpo teria sido sacudido violentamente, as mãos tentando ainda reter a vida que lhe fugia, os pulmões explodindo, e só foi encontrada na manhã seguinte, junto a uma poça de vômitos os mais díspares: poesia, ócios, ódios, limites, entre restos coagulados de uma lucidez perplexa, como se tudo que descobrira fosse bile.
Não havia pistas nem explicações plausíveis, nada sobre o que especular, ao lado do corpo.
Os jornais nem deram a notícia.